Filme de atuação, história adota tom ingênuo com reservas.
Por Pedro Strazza.
Arcos de descoberta do mundo são tão inerentes aos contos infantis quanto a inexperiência é de uma criança. Clássicos ou modernos, existe um elemento de ingenuidade em quase todos os protagonistas de tais histórias que os permite encarar com admiração suas aventuras para fora de seu terreno conhecido, algo que qualquer menino ou menina se conecta instantaneamente por viver situações parecidas todo dia. O fascínio pelo novo, pelo desconhecido, por aquilo que é inédito a seu mundo permite de certa forma o crescimento, e tais contos são o que melhor entendem a dimensão do poder da experiência a ponto de manterem-se como objetos de afeto do indivíduo depois de adulto.
Quem compreende muito bem esta relação específica entre público e obra é O Quarto de Jack, adaptação do livro homônimo de Emma Donoghue que se utiliza da ingenuidade como elemento narrativo vital e motor de sua história. Pois mesmo que parta de uma situação genuinamente terrível e ancorada na dura realidade, o filme de Lenny Abrahamson consegue se estruturar como o típico conto infantil ao colocar seu ponto de vista no indivíduo mais inocente da trama.
Acima de tudo, porém, o pequeno Jack (Jacob Tremblay) é a materialização do ideal dos protagonistas das histórias clássicas para crianças, um menino de cinco anos que nunca antes tinha conhecido e experimentado o mundo por estar literalmente preso entre quatro paredes. Desde seu nascimento, o garoto vive confinado a um galpão junto de sua mãe Joy Newsome (Brie Larson), sequestrada há sete anos por um homem desconhecido apelidado de Velho Nick (Sean Bridgers) e que a estupra toda semana. Para preservar o filho do momento cruel que ambos passam, ela inventa a Jack um universo fantasioso e limitado ao quarto, no qual o espaço fora dali não existe e onde todo objeto presente lá dentro tem uma espécie de identidade. Seu plano funciona, mas quando os dois enfim conseguem ser resgatados do lugar Jack começa a sofrer com as quebras de seus parâmetros originais e com o reajuste aos novos.
Com frequência confundido no roteiro da própria Donoghue por um de revelação para adequar a obra ao tom ingênuo pretendido, esse processo de adaptação do personagem principal é trabalhado por Abrahamson pelos espaços ocupados, a princípio no quarto claustrofóbico que ocupa quase todo o primeiro ato do longa e no fim as ruas e quintais suburbanos, cuja ambientação ao ar livre trazem o respiro visual que o espectador anseia o filme inteiro. Nesse meio do caminho, a fotografia de Danny Cohen se encarrega de dar a progressão necessária para essa libertação sentida por Jack e o público, em espaços cada vez mais amplos e menos ameaçadores - e quando a trama precisa passar por lugares abertos, Cohen e Abrahamson filmam em planos fechados para preservar esse espírito, impossibilitando qualquer alívio acidental.
O que contribui mais em O Quarto de Jack, entretanto, é a dinâmica exercida entre os dois atores principais, que dão a humanidade necessária para o envolvimento do espectador no destinos de seus personagens. E isso se percebe não apenas quando os dois estão juntos, mas também em seus reencontros: no momento posterior ao resgate, em que Jack se desespera dentro de um carro de polícia (mais uma vez, o ambiente fechado) na tentativa de chamar a atenção da mãe, o abraço seguinte dos dois traz uma ternura reconfortante, uma harmonia elemental em meio ao caos estabelecido na cena. E se Larson entrega uma performance calcada no frágil graças à maior liberdade que tem aqui em relação a outros trabalhos, Tremblay surpreende com uma atuação delicada e sem exageros, inesperada à sua pouca idade e capaz de sozinho fornecer todo o viés infantil da história.
Consciente desta última, Abrahamson busca então dar cabo da tarefa de circundar a fábula do pequeno protagonista com a realidade do mundo no qual este se situa, e é aí que as coisas desandam. Os dramas que cercam a vida de Jack nunca escapam do tangencial na narrativa, e seu tratamento no campo do subentendido ressalta tanto a superficialidade dos coadjuvantes em cena - a dificuldade do avô interpretado por William H. Macy em olhar para o neto soa gratuita e não disfarça seu papel no roteiro, por exemplo - mas também acaba por ser insuficiente no desenvolvimento do arco de reintrodução vivido pela própria Joy. Em muitos momentos, é como se o cineasta mais atrapalhasse que auxiliasse a personagem, que sobrevive graças à decisão de Larson em manter o emocional como engrenagem principal de sua atuação.
São erros e acertos muito similares aos de Frank, trabalho anterior do diretor que também se sobressaía na performance do protagonista e equivocava-se nos direcionamentos narrativos. Mas se na história do vocalista com uma grande cabeça feita de papel-machê Abrahamson talvez parecesse receoso de conduzir o filme a favor da atuação de Michael Fassbender, em O Quarto de Jack ele está mais aberto a se aceitar como diretor de atores, deixando que seus dois protagonistas tragam a sustentação requerida pelo filme. Agora só falta a ele conceber o resto com maior riqueza.


















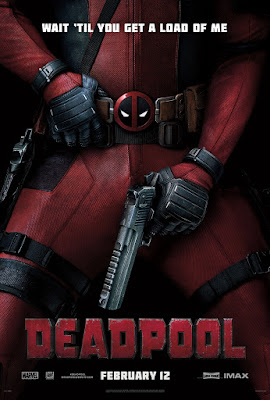










.jpg)

