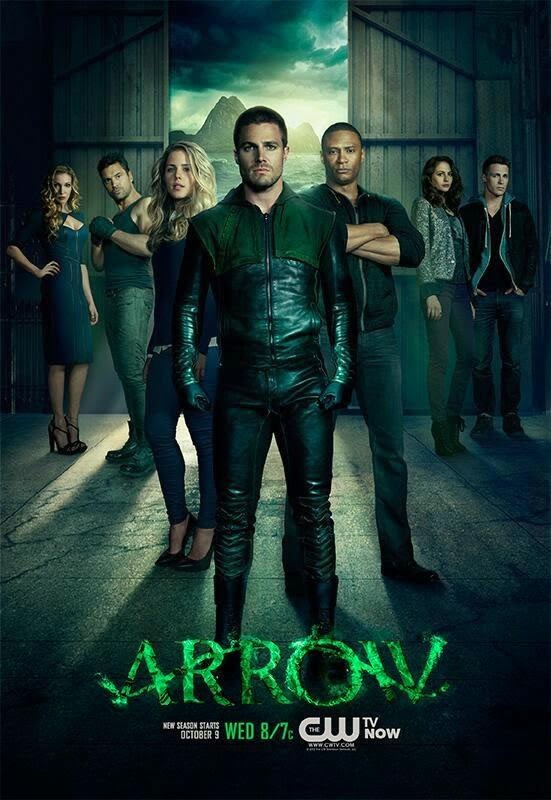Bryan Singer, o consertador de linhas temporais da saga mutante
Por Pedro Strazza
Se a franquia X-Men pudesse ser resumida em apenas um adjetivo, este seria "confusa". Pioneiros na retomada dos filmes de super-heróis e das adaptações de quadrinhos, os mutantes tiveram uma cronologia bem estabelecida em sua primeira trilogia com Bryan Singer, que, mesmo alterando características básicas da equipe liderada por Charles Xavier, entregou ao público uma obra coesa e dinâmica - o que inclui o esquecível terceiro capítulo dirigido por Brett Ratner. O único erro de Singer nessa equação, porém, foi o de achar que uma trilogia bastaria para saciar os fãs e a Fox, e nesse momento começaram as confusões.
Procurando reiniciar a franquia nos cinemas, o estúdio responsável pelos mutantes lançou outras três produções sobre as criações de Stan Lee e Jack Kirby, mas sem se preocupar em checar com os roteiristas se estes novos capítulos tinham relação ou não com a história inicial. Assim, ao mesmo tempo em que a trama original continuava a existir pela franquia solo de Wolverine em X-Men Origens e Imortal, a linha temporal parecia sofrer um reboot com X-Men: Primeira Classe - e, com isso, as incoerências temporais se acumulavam na mente dos fãs. Percebendo seu erro quase que tarde demais, a Fox parecia ter criado um problema para o qual não conseguiria arranjar resposta, e uma ajuda de alguém experiente se fazia urgentemente necessária.
Singer, então, saiu da posição de produtor para voltar a assumir as rédeas da franquia, e, com o objetivo de consertar a cronologia mutante, procurou nos quadrinhos um arco que poderia suprir suas necessidades. A solução veio com a clássica HQ Dias de um Futuro Esquecido, cuja estrutura é agora adaptada para os cinemas sob a forma de quinto capítulo dos X-Men. Além de envolver elementos como viagem no tempo e um futuro apocalíptico, o roteiro de Chris Claremont e John Byrne também se adequa aos propósitos do diretor por justamente gerar na franquia a oportunidade única de reunir em um só filme as duas gerações de mutantes no cinema, algo financeiramente interessante para a produção.
A premissa, considerando os objetivos principais desta sequência, é relativamente simples. Encurralados em um futuro onde tanto a raça humana quanto a mutante foram extintas pelos inderrotáveis Sentinelas e sabendo que sua salvação só se dará por corrigir o passado, o professor Xavier (Patrick Stewart) e seus alunos enviam a mente de Wolverine (Hugh Jackman) aos anos 70 no intuito de evitar que Mística (Jennifer Lawrence, estranhamente menos maquiada no papel que no último filme) assassine Bolivar Trask (Peter Dinklage) e desencadeie todo o processo de aniquilação. Mas para que isso ocorra, Logan terá que reunir os jovens Xavier (James McAvoy) e Magneto (Michael Fassbender) sob um mesmo propósito, uma missão extremamente complicada considerando a reciprocidade entre os dois naquele momento.
O foco nessa relação tumultuosa entre os futuros líderes mutantes constitui-se como um dos principais acertos de Singer aqui. Atento ao fato de que a geração apresentada em Primeira Classe será o novo foco da franquia, o diretor realiza o mesmo procedimento do longa de 2011 de centrar a trama no trio formado por Xavier, Magneto e Mística e continua a os desenvolver, cada um de uma maneira diferente. Enquanto o professor precisa lidar com seu drama para aceitar a cadeira de rodas, Erik continua sua transformação em líder radical de sua espécie ao mesmo tempo em que a transmorfa dá seus passos para se tornar a vilã conhecida dos quadrinhos.
Esta maior atenção ao trio protagonista não tira do filme, porém, a oportunidade de usar seus coadjuvantes com perspicácia e sabedoria, e Singer sabe mais do que ninguém como fazer isso. Em vários momentos, o diretor utiliza-se de seus personagens secundários em duas categotias distintas: Ou para encantar o público com cenas extremamente bem elaboradas - principalmente na ação, bem organizada e orquestrada de forma que o espectador acompanhe as brigas sem se perder - ou continuar a trama em momentos pontuais e cruciais - E aqui se encaixam as participações do Xavier do futuro e de Kitty Pride (Ellen Page). O maior destaque do elenco secundário (e do longa, no geral), entretanto, está inacreditavelmente no rebelde Mercúrio (Evan Peters), cuja breve sequência que protagoniza em uma cozinha se faz como uma das melhores cenas em um filme de super-herói da História.
Mas os acertos realizados na construção da estrutura de Dias de um Futuro Esquecido em quase nada fariam efeito se o principal objetivo da produção não fosse atingido. Afinal, o filme corrige a cronologia mutante no cinema?
E a resposta é: mais ou menos. Apesar de consertar efetivamente vários defeitos de continuidade da franquia e descontinuar a trilogia original em prol da nova, Singer ignora várias incoerências ajambradas pela série solo de Wolverine - que nesta sequência é acertadamente utilizado apenas como um elo entre o presente e o passado - e O Confronto Final. As correções realizadas, por outro lado, são eficazes - mesmo que podendo ser quebradas facilmente por uma rápida reflexão do espectador após a sessão -, mas esvaziam do filme qualquer maior aprofundamento sobre a questão dos mutantes na sociedade e sua aceitação, principal pauta da franquia desde sempre, devido ao tempo que levam para serem feitas.
Esta problemática, porém, em nada interfere no resultado geral obtido pela produção aqui. Divertido e eficiente na medida certa, Dias de um Futuro Esquecido continua com primor a evolução natural da franquia X-Men nos cinemas ao mesmo tempo em que organiza a linha temporal da série da melhor maneira possível. A partir daqui, cabe a Bryan Singer a tarefa de continuar a trama sem querer acabar com ela logo - e evitar, claro, quaisquer novas confusões temporais na cronologia.